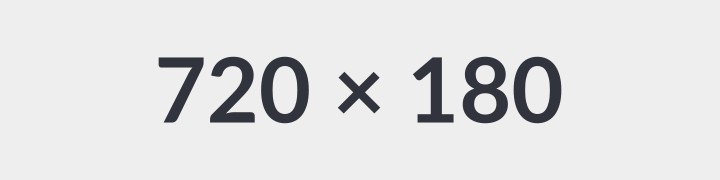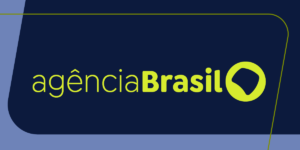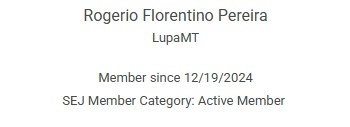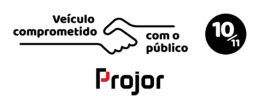Empresas patenteiam saberes tradicionais, e comunidades lutam para proteger seu patrimônio biocultural.
O novo rosto do colonialismo
O cupuaçu, fruto amazônico usado há séculos por comunidades locais, tornou-se símbolo de uma luta contra a biopirataria. Empresas estrangeiras estão patenteando conhecimentos tradicionais, ameaçando a biodiversidade e o sustento de populações inteiras.
A prática conhecida como colonialismo biocultural ocorre quando grandes corporações se apropriam de saberes indígenas e de recursos naturais, transformando-os em propriedade privada. “A biodiversidade e os conhecimentos tradicionais deixam de pertencer às comunidades que os desenvolveram para se tornarem propriedade de grandes empresas”, alerta o artigo Políticas Públicas: A Educação Ambiental como Instrumento Contemporâneo e Atenuante do Processo de Colonialismo Biocultural na Região Amazônica (2024), assinado pelos pesquisadores Odorico Ferreira Cardoso Neto, Bianca Parreira de Freitas e Ana Clara Lira Noleto.
O sistema de patentes tem sido um dos principais mecanismos dessa apropriação. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) deveria proteger os interesses nacionais, mas frequentemente favorece empresas estrangeiras. “O Brasil possui legislação específica, mas a ineficiência na sua aplicação facilita a biopirataria e o colonialismo biocultural”, explicam os autores.
O caso do cupuaçu
Entre os exemplos mais emblemáticos está o cupuaçu (Theobroma grandiflorum). Tradicionalmente consumido por populações amazônicas, o fruto teve seu nome registrado como marca pela empresa japonesa Asahi Foods. “A população amazônica viu-se impedida de comercializar um produto que sempre lhe pertenceu”, denunciam os autores do estudo.
A indignação levou ao movimento O Cupuaçu é Nosso!, que conseguiu reverter a patente. No entanto, o caso expôs uma fragilidade preocupante na legislação brasileira. “Se não houver impugnação dentro do prazo, marcas e patentes são concedidas automaticamente, favorecendo a apropriação indevida da biodiversidade brasileira”, alertam os pesquisadores. Além disso, “as barreiras burocráticas dificultam ainda mais o acesso das comunidades tradicionais ao sistema de proteção legal”.
“Essa é uma nova forma de colonialismo, que ameaça a soberania do Brasil sobre seus recursos naturais”, afirma um dos pesquisadores.
A luta pela proteção
A educação ambiental surge como uma ferramenta essencial na defesa dos direitos das populações tradicionais. “A conscientização da população sobre seus direitos e sobre a importância de seus conhecimentos tradicionais é fundamental para impedir que grandes corporações continuem se apropriando desses saberes”, destacam os autores.
Eles enfatizam que a educação ambiental não é apenas uma questão acadêmica, mas “um ato de resistência contra a exploração predatória dos recursos naturais e culturais”. Além disso, pode fortalecer a legislação nacional. “A falta de acesso à informação impede que as comunidades locais reivindiquem seus direitos, e a educação ambiental pode suprir essa lacuna”, reforçam os pesquisadores.
O que está em jogo?
A biopirataria não é apenas um problema jurídico, mas também ambiental e social. O conhecimento tradicional, desenvolvido ao longo de gerações, pode ser perdido se não houver mecanismos eficazes de proteção. Para os pesquisadores, “a luta contra o biocolonialismo deve ser coletiva, pautada na educação e na conscientização”.
“A proteção do conhecimento tradicional exige políticas públicas eficazes, fiscalização rigorosa e maior conscientização da sociedade”, concluem os especialistas.
A batalha contra a biopirataria está em curso. O futuro dos saberes tradicionais da Amazônia depende de ações concretas para garantir que esses conhecimentos continuem pertencendo a quem os preservou por séculos.
Leia também: Energisa condenada por retirada de medidor sem justificativa
Leia também: STF propõe liberar mineração em terras indígenas