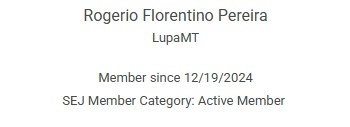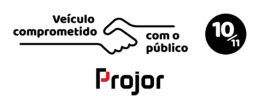Quase quatro anos depois, acontece a primeira audiência do processo criminal contra policiais que participaram do massacre de Paraisópolis. O nome foi dado à ação policial na comunidade na Zona Sul de São Paulo que levou à morte de nove jovens, com idades entre 14 e 23 anos, e um número incontável de feridos. Cerca de 5 mil pessoas se divertiam no baile da DZ7, que acontece dentro da comunidade. O baile foi encerrado com bombas e tiros, e as pessoas acabaram sendo encurraladas na correria pelas vielas.
Dos 31 policiais que participaram do episódio, 12 estão sendo processados. Na sessão, que acontece nesta terça-feira, no Fórum Criminal da Barra Funda, no Centro de São Paulo, serão ouvidos as testemunhas de acusação, os PMs e familiares das vítimas.
No julgamento, que se inicia 3 anos 7 meses após a ação, os policiais responderão pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, com pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão, e lesão corporal, no qual podem ser condenados de 2 a 8 anos. O caso também é apurado separadamente na Justiça Militar.
Os 12 agentes acusados são os soldados: Anderson da Silva Guilherme, Gabriel Luís de Oliveira, José Joaquim Sampaio, Luís Henrique dos Santos Quero, Marcelo Viana de Andrade, Marcos Vinicius Silva Costa e Matheus Augusto Teixeira; o subtenente Leandro Nonato, o Sargento João Carlos Messias Miron, o Cabo Paulo Roberto do Nascimento Severo e a Tenente Aline Ferreira Inácio.
As nove pessoas que morreram após a ação da Polícia Militar foram: Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos; Dennys Guilherme dos Santos Franco, 16; Marcos Paulo de Oliveira dos Santos, 16; Denys Henrique Quirino da Silva, 16; Luara Victoria de Oliveira, 18; Gabriel Rogério de Moraes, 20; Eduardo Silva, 21; Bruno Gabriel dos Santos, 22 e Mateus dos Santos Costa de 23 anos. Nenhuma das vítimas morava na comunidade.

Em entrevista à Agência Pública, Maria Cristina Quirino Portugal, 43 anos, mãe do adolescente Denys Henrique, falou sobre a sua expectativa em relação à audiência e da importância do relatório “O Massacre no Baile da DZ7, Paraisópolis: Chacina Policial, Institucionalização do Caso e a Dinâmica dos Fatos Segundos as Evidências”, lançado em 01 dezembro de 2022. “Só pelo fato que a gente vai ver a cara deles [os policiais] pela primeira vez, estou com muito medo. Acho que medo é o que me define hoje. Mas eu preciso muito ir pra cima porque é preciso que o juiz entenda que esse caso não pode voltar para a Justiça Militar”, conta.
Portugal, integrante do Movimento de Familiares das Vítimas do Massacre em Paraisópolis, participou da elaboração do relatório como pesquisadora e parte da equipe do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O documento também contou com a parceria do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos (NECDH) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
O relatório, que será utilizado pela acusação, apresenta uma análise detalhada sobre o que aconteceu naquela madrugada, e questiona a narrativa apresentada pelos agentes de que houve resistência à ação PM. O trabalho também afirma que o motivo das mortes não foi o pisoteamento e que não houve socorro.
No último sábado, 22 de julho, Cristina, junto a outros familiares de vítimas, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais estiveram em Paraisópolis e fizeram uma caminhada pelas ruas e vielas para lembrar aos moradores o que aconteceu ali. Durante o trajeto, com faixas, cartazes e panfletos, eles divulgaram a data da audiência e criticaram a absolvição de 19 agentes envolvidos na operação. O grupo pede que todos os 31 PMs envolvidos no massacre sejam levados a júri popular.
Confira a entrevista completa:
Você poderia falar sobre o Denys Henrique?

Eu tenho quatro filhos. Dois mais velhos que o Denys e uma mais nova que ele, mas ele era o filho que me dava mais amor, mais carinho, mais atenção. Ele alegrava a família inteira. Era o mais carismático, muito engraçado e muito inteligente.
Ele era muito amigo, sabe? Eu não perdi só um filho, eu perdi o meu amigo, eu perdi meu companheiro. O filho que eu planejei pra minha companhia na minha velhice. Eu já tinha dois meninos e eu queria ter mais um filho. Eu falava muito pra Deus me dar outro menino, que eu era muito feliz sendo mãe de menino. Ele veio e ele se apegou muito a mim desde bebezinho.
Quando as crianças nascem, as mães dão chupeta, dá fraldinha e chama de ‘naninha’, meu filho não teve ‘naninha’ porque a ‘naninha’ dele era o meu cabelo. Eu nem cortava o cabelo por causa dele. Ele se apegou de uma maneira tanto comigo que só dormia cheirando o meu cabelo, ele fazia cafuné em mim, era muito apegado.
Meu filho estava no auge da juventude. Ele tinha só 16 anos, estava começando a descobrir as coisas da vida. Era aquele garoto que estava sonhando em fazer 18 anos e comprar uma casa melhor pra nós, pra gente sair do aluguel, ele era um sonhador.
Eu vim de família humilde, de uma família constituída pela maior parte de mulher. Só tem de homem meu pai, meu irmão mais velho, o resto é tudo mulher. E os jovens, que são os nossos filhos, são os homens que estão chegando na família. Criar quatro filhos sozinha não foi fácil.
No país, há milhares de casos de jovens que foram e são vítimas da violência do Estado. No entanto, não são todos os familiares que têm forças e condições de lutar por justiça e reparação. Em que momento você tomou a decisão de fazer essa luta?
Foi quando a Corregedoria Militar da Polícia Militar começou a falar que a culpa era deles, que a culpa era nossa. Até então, eu ainda acreditava que eles iam falar a verdade, mas aí quando saiu a decisão da Corregedoria e também uma matéria que falou que eles iam acionar o Conselho Tutelar pros pais pela morte dos menores, que os maiores de idade seriam os responsáveis e iam culpar também os organizadores do baile, eu entendi que estava tudo errado.
Não era pra mim ficar do jeito que eu estava, que se eu ficasse, meu filho ia ser mais um que ia ser assassinado pela polícia e todo mundo achar que a polícia está certa – porque era assim o pensamento que eu tinha antes. Aí, de repente, você vê a Corregedoria falando uma coisa dessa. Eles estão corrigindo quem dessa maneira?
Então eu fui atrás de apoio para mostrar a verdade que eles não contam. Foi aí que eu me levantei e falei, ‘não, a mãe do Denys tem que levantar porque meu filho era inocente, meu filho estava num baile, meu filho não estava cometendo crime nenhum, meu filho era menor de idade, eles tinham que ter feito todas as correções lógicas e óbvias. Levar pra uma delegacia, chamar o Conselho Tutelar pra mim ir lá repreender meu filho, corrigir, dar uma uma punição pra ele, ou pra mim, se fosse o caso, mas não matar o meu filho e me entregar ele dentro do saco plástico. Isso nunca. Eles não tinham esse direito.
Eles não podem cometer crimes desse tipo – nenhum na verdade – e ainda saírem impunes como se fossem heróis. Eu tinha essa visão da polícia antes, que eles eram heróis. Eu achava que eles salvavam as vidas, eu tinha grande admiração por essa profissão. Me envergonho de falar isso hoje, porque eu imagino o quanto eu estava admirando leigamente, sem saber o que de fato eles fazem. Sem saber a quantidade de pessoas eles já mataram. Hoje eu sei, eu já tenho essa ciência, porque eu leio anuários e pesquisas que saem todos os anos e eu vejo como eles agem. Hoje eu falo, ‘cara, como é que eu pude admirar uma profissão dessa?’
Tem gente que fala pra mim assim, ‘ah, não são todos’, mas eu não acredito mais nisso também. Eu não acredito porque numa ação que tinha 31 policiais envolvidos na morte dos nossos filhos, nenhum falou a verdade. Se tivesse um honesto naquela situação, ele teria falado a verdade, ele teria dado um depoimento correto que ajudasse a gente a provar que todos eles estavam fazendo a mesma coisa, mas nenhum fez isso, por quê? Porque eles fazem um juramento, a partir do momento que eles juram a bandeira deles lá, eles não quer saber, eles são corrompidos.
Aí você vê que passa o tempo e a mentira continua. Para o DHPP [Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa], só 12 dos 31 foram denunciados por homicídio culposo, quando não tem intenção de matar. Eles encurralam as pessoas dentro de uma viela, joga gás de pimenta, joga gás lacrimogêneo, dá tiro de borracha, eles fazem todo aquele “auê”- como que eles não estavam com a intenção de matar? Tem a voz de um policial falando ‘vai morrer, vai morrer todo mundo’. O que ele queria naquela hora era matar todo mundo. E por quê? Agora me fala por quê? Quem me dá essa resposta? Por que fizeram isso com os nossos filhos? Por quê? Qual foi o mal que os nossos filhos fizeram para eles?
Em que momento você começou a se envolver com esse processo de investigação com o CAAF?
Na prática, eu já fazia essa investigação antes mesmo de ter o trabalho do CAAF. O que eles começaram a fazer, eu já estava fazendo na minha casa sozinha, que era ver vídeos e vídeos e começar a ver o que que estava errado. Tenho todas as anotações de tudo está errado, o que não podia. Eu ia atrás de provas e eu fui atrás de testemunhas em Paraisópolis sozinha.
Os familiares do Dennys Guilherme também fizeram. A gente tentou ir na comunidade sozinha, sem saber que era arriscado. Aí depois que eu entrei pra equipe, mas quando eu cheguei, eu já sabia como ia ser porque era a mesma coisa que já estavam fazendo: ir atrás de provas, atrás de confrontar as versões etc.
Desde o começo, quando aconteceu isso, o CONDEPE [Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana] reuniu todos os familiares e chamou a Defensoria [Pública], movimentos sociais – foi uma reunião coletiva – e naquele momento foi criada uma comissão pelo CONDEP e eu já me incluí nessa comissão. Mas desde o primeiro instante eu já queria saber o que tinha acontecido com o meu filho. Eu já sabia que estava tudo errado, só que ainda não tinha caído a ficha.
A gente começou a se reunir toda semana e aí o CAAF entrou. Foi aí que eu grudei neles, porque senti que eles iam nos ajudar. Deus tocou o meu coração e eu não desgrudei mais deles – nem do CONDEPE nem do CAAF – porque foi ali que eu vi a oportunidade de trazer essa verdade.

Na época, o então governador João Dória, em reunião com os familiares, prometeu criar uma comissão externa para acompanhar as investigações. Essa promessa foi cumprida?
Essa promessa nunca foi cumprida. Eu estava nessa reunião e ele prometeu que ia montar a comissão, que ela ia existir e ele ia oficializar, mas nunca aconteceu. Tudo que ele prometeu, no meu ponto de vista, ele não cumpriu.
Ele prometeu seriedade. Ele não cumpriu com a seriedade dele. Porque a partir do momento que a gente chega numa reunião com o governador do estado de São Paulo e ele vira pra nós e fala, pouco tempo que tinha acontecido as mortes, que só tinha sete policiais afastados e estava tudo bem – isso numa roda cheia de familiares e representantes do governo. Eu falei na cara dele: “como que você acha que está tudo bem, sendo que você afastou só sete policiais? Sendo que tem mais de 30 envolvidos numa ação que matou os nossos filhos. E o restante? De repente esses sete que você separou, eles não estavam nem lá dentro da favela, batendo, espancando, jogando gás de pimenta. De repente eles não tiveram nem participação. A gente exige que afastem todos’, aí ele virou pro coronel da Polícia Militar que estava sentado do lado dele e mandou afastar no mesmo dia.
Os familiares tiveram algum suporte do Estado? Há alguma perspectiva de reparação?
Não existe reparação para isso. Eles só estão contribuindo para a redução de danos que eles causam na vida da gente.
A princípio veio um monte de gente na minha casa, na casa de todos os familiares, oferecer apoio psicológico pra mim, pra família, meus filhos e eu não aceitei, porque como que o Estado oferece apoio psicológico pra uma mãe sendo que foi o próprio Estado que causou mal na minha vida, na minha mente. Eu não consegui aceitar.
Mas aí a moça deixou o endereço dela no papelzinho e falou ‘ó, próxima quinta-feira a senhora vai lá’. Aí ela me chamou no WhatsApp: ‘dona Maria Cristina, a senhora vai?’ Aí eu falei, onde que é? Quando ela me mandou o endereço, eu não acreditei, é dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, onde vai acontecer audiência. O apoio psicológico que o Estado oferece pra mães que têm seus filhos assassinados é lá dentro. Aí eu não fui, nenhum familiar foi. Mas passou um tempo e o Condepe conseguiu o apoio psicológico num lugar na Santa Cecília.
A gente chegou a ir, eles montaram um grupo pros familiares, só que era pago, a gente não tinha condições de pagar. A gente só participou de duas sessões e depois a gente não foi mais. Passou o tempo, aí veio a pandemia e aí eles ofereceram de novo. Então fez um grupo, só que desta vez gratuito e só para nós familiares. E eu não participei desse grupo porque eu já estava debruçada na luta com a cara e com a coragem, cheia de problema pessoal e sendo despejada. Eu entrei no finalzinho, quando estava perto de acabar, mas foi quase um ano de grupo, eu acho.
Como tem sido para você participar deste processo de investigação junto ao CAAF e a Defensoria? Porque, além do seu filho, há outros jovens e seus familiares. Isso de certa maneira traz mais responsabilidade?
É uma responsabilidade também, mas pensando no futuro. Precisa de muita força pra seguir, amigo. É Deus e meu filho que me dão essa força todos os dias porque eu durmo e acordo pensando nele. Durmo e acordo pensando que eu não tenho mais meu filho comigo. Não tem como eu não pensar nisso. E eu durmo e acordo pensando com medo de perder outros filhos. Então essa força vem daí.
Olha aqui ó, agora estou dentro da casa da minha comadre, tem três crianças ali. Eu sei que essas crianças têm um futuro e elas precisam viver.
Quando eu estou lutando, quando eu estou na luta, quando eu vou para as manifestações, para alguma entrevista, alguma coisa que preciso fazer, eu não estou indo por mim nem pelo meu filho, não. Meu filho não volta. Estou indo por nós. Eu falo nós porque eu hoje eu me vejo que eu sou uma vida pelas vidas.
Porque eu não estou lutando pra que meu filho vá voltar. Você acha que eu não queria estar no lugar de uma mãe que tem um filho preso, que vai lá na Defensoria pedir isso, pedir aquilo. Bater em uma porta, bater em outra porque sabe que o filho vai voltar. O meu não volta.
Mas eu preciso que as outras pessoas vivam. Eu preciso que as outras crianças, a juventude viva. Eu olho pros adolescentes hoje, eu olho pros jovens e quero eles vivos.
Hoje mesmo de manhã, estava parada na porta da padaria, perto da minha casa, e tinha um garoto que entrou, saiu e eu fiquei olhando – ele tinha 15, 16 anos – eu vi meu filho naquele garoto. Mas o meu filho não teve mais condição, a possibilidade de continuar, de ir numa padaria. É igual olhar pros meus filhos hoje com 25 e outro com 23 anos. Meu filho não vai alcançar essa idade. Mas os filhos dos das outras pessoas vai e é por isso que eu luto, entende? Eu acho é daí que vem essa força é por eles.
Eu não posso ter perdido o filho em vão. Esse é meu pensamento e é isso que eu alimento todos os dias. Eu não perdi o filho assassinado pela polícia no exercício da função para simplesmente cruzar os braços e ficar quieta. Não!
Como você acha que é a mente de uma mãe que idolatrava a polícia? Essa é a palavra que eu usava: eu idolatrava – era Deus no céu e a polícia na terra para proteger a minha família. Era esse o termo que eu usava. Até primeiro de dezembro de 2019. Ensinei meus filhos a respeitar a polícia, eu ensinei meus filhos a baixar a cabeça pra polícia. Eu dizia ‘mesmo que você esteja certo, filho, quando a polícia te parar na rua, você respeita’.
Você imagina só, eu vivi, eu nasci, cresci na periferia, eu vi muita coisa errada, eu vi muita atitude da polícia que não era correta. Então eu passava isso pra que os meus filhos não passassem por aqueles constrangimentos, por aquela situação. Então, de repente, você dorme idolatrando a polícia, mãe de quatro filhos, no outro dia você acorda mãe de três filhos porque aquela polícia matou o teu filho.
Como você acha que está a minha mente hoje diante de uma situação onde eu tenho que lutar por justiça, onde eu vou dia 25 estar de frente com alguns dos assassinos do meu filho e eles estão lá lutando para se inocentar sendo que eles mataram nove pessoas?
Em fevereiro de 2020, a Corregedoria da PM concluiu o inquérito policial militar que apurava a conduta dos policiais envolvidos no caso e pediu o arquivamento da investigação. A conclusão foi a de que, apesar das mortes, a ação dos policiais foi lícita e que eles agiram em legítima defesa. Como foi receber essa notícia na época?
Foi neste dia que eu falei ‘não, espera aí que agora eu vou me tornar uma pedra no sapato do Estado. Porque isso não está certo’. Foi um baque pra nós todos, nós ficamos destruídos – eu falo em nome de todos mesmo, porque a gente conversava muito nessa época, todos os dias.
Eu tinha esperança que a corregedoria fosse justa. Achei que ia afastar todo mundo, mas não fizeram isso. Aí, quando chegou na Justiça Militar, pediu o arquivamento. Cara, que que está acontecendo? Aonde que a gente está errando? Mas não é nós que estou falando é os governantes lá de cima lá sabe? Aquele povo lá, que tem o poder de mudar essa situação, de reverter isso.
Agora muda quando é pra eles. Quem vai lá fazer arruaça em Brasília, agora é crime hediondo. E aí isso aí mudou rapidinho. Só que eu vou bater na porta de quem pra pedir pra mudar, quando o policial for matar o filho de alguém? – na verdade ele não tem nem que matar – , mas se ele matar, pra que seja afastado imediatamente da polícia? Afastado mesmo, não afastado administrativamente. Entendeu? Exonerado na hora.
Ele só vai receber o direito, no meu entendimento, de exercer novamente a função se ele provar a inocência realmente. Se não tiver punição, não vai ter justiça nunca, nunca. Esse é o meu entendimento, não tem lógica, não tem lógica. Enquanto não tiver punição pra esses, eles vão continuar matando. Eles têm um aval do Estado pra isso.






A narrativa apresentada pelos agentes envolvidos no massacre é de que houve resistência à ação policial
Quais foram as contradições encontradas na narrativa dos policiais que vocês conseguiram apurar para o relatório?
A principal delas é quando eles entram em contato com o COPOM. Que eles ficam 21 minutos em silêncio, sem comunicação com o rádio do COPOM. Depois, eles entram em contato falando que tem nove pessoas pisoteadas na viela e começam a conversar no rádio entre eles. É a tenente e o COPOM falando, pedem o SAMU e eles começam a pedir pra socorrer as vítimas, falando que eles estavam sendo ameaçados pela população, que não tinha condição, que tava muito longe, que as vítimas estavam pedindo socorro.
Essa é a maior contradição de todas. Primeiro, porque pra morrer de asfixia acho que é de três a quinze minutos. Eles já passaram 21 minutos em silêncio com o rádio do Copom. Naqueles minutos nossos filhos já estavam mortos e nenhum deles tentou fazer os primeiros socorros. Eles chegaram no hospital mortos.
Também tem o confrontamento das imagens que conseguimos, porque eles falam no rádio do COPOM que na rua tinha mais de mil pessoas e que eles tinham que sair porque estavam sendo pressionados. Eles falam no depoimento que fizeram uso de bala de borracha, de gás de pimenta, que fizeram o uso dessas armas pra dispersão da população, para poder sair tranquilamente com as vítimas que estavam socorrendo. Mas tem a imagem que mostra eles saindo em comboio, um atrás do outro e a rua vazia deserta.
Também tem a parte que eles falam, quando eles chegam no hospital com os nossos filhos, que o fato aconteceu há 30 minutos [, só que nesse período tinha passado uma hora. Então aí é onde você começa a pegar as mentiras deles, porque é tudo mentira. Porque se eles tivessem que falar a verdade, se eles tivessem acionado o COPOM dizendo que estavam precisando prestar socorro, que tinha que mandar mais de uma ambulância, chegaria mais.
Ela [a policial que atendia a ocorrência] fala em algum momento: ‘uma ambulância só não vai dar’.Eles não falam em momento algum qual era a situação real pro COPOM. O que de fato tinha acontecido ali. Eles só falam que teve tumulto, teve correria, mas eles não falam que eles estavam tacando gás de pimenta e bala de borracha nos meninos encurralados na viela.
A versão apresentada pelos policiais e pela justiça é a de que os adolescentes e jovens se machucaram ou morreram por conta do pisoteamento. O que o relatório revela em relação a isto?
No nosso relatório não há nada que indique que foi pisoteamento. As mortes dos nossos filhos não têm nada a ver com o que eles falam. Nenhum tinha marca no corpo de pisoteamento. Só tinha um que tinha o trauma raquimedular – que a gente está trabalhando para saber se condiz com os fatos que eles narram.
Meu filho era magrinho, meu filho era isso aqui ó [mostra o dedo mindinho], se meu filho tivesse sido pisoteado, você acha que o meu filho não tinha quebrado um dedo pelo menos? Não tinha uma cartilagem quebrada, não tinha nada quebrado nele? Ele só tinha um machucado na testa e tinha um machucado na mão.
Como você imagina que a justiça pode ser feita neste caso? Qual é a justiça que você busca?
Eu não sei se seria uma justiça. Não consigo ver nenhuma justiça. Eu sei que a gente busca pelo menos a punição dos assassinos dos nossos filhos, eu acho que é o mínimo que tem que acontecer agora é eles perderem o direito de matar outras pessoas porque eu não vejo mais eles com o direito de serem protetores e servidores da leis.
Não consigo vê-los mais como policial herói, como eu via antes, não consigo ver mais como quem está ali para proteger a sociedade, servir a sociedade. Não é mais essa visão que eu tenho da polícia e dos assassinos dos nossos filhos.
Eu entendo que, por exemplo, se nós estamos aqui num comércio – você tá comigo aqui – se eu fechar o lugar cheio de gente dentro, abrir o botijão de gás e morrer todo mundo e a gente sair, se a gente tava junto, você vai ser meu cúmplice. Mesmo que você não tenha feito nada, você vai responder por isso, você podia ter impedido.
A gente queria que todos eles paguem pelo que eles fizeram. Foram três equipes: ROCAM, Força Tática e o 16° Batalhão que atende Paraisópolis.
Qual a sua expectativa em relação a esta primeira audiência?
Eu estou muito tensa. Estou com muito medo. Só pelo fato que a gente vai ver a cara deles pela primeira vez, eu estou com muito medo. Acho que medo é o que me define hoje. Mas eu preciso muito ir pra cima porque é preciso que o juiz entenda que esse caso não pode voltar para a Justiça Militar.
A expectativa maior é de mostrar a realidade para sociedade porque o trabalho do CAAF mostra essa realidade e ele é parte do processo, então eu acho que fazer com que a sociedade enxergue e entenda porque, quando sentarem no júri, seja lá quem for, que a pessoa tenha ciência que está diante de um caso que não tem como falar que os policiais não são culpados.